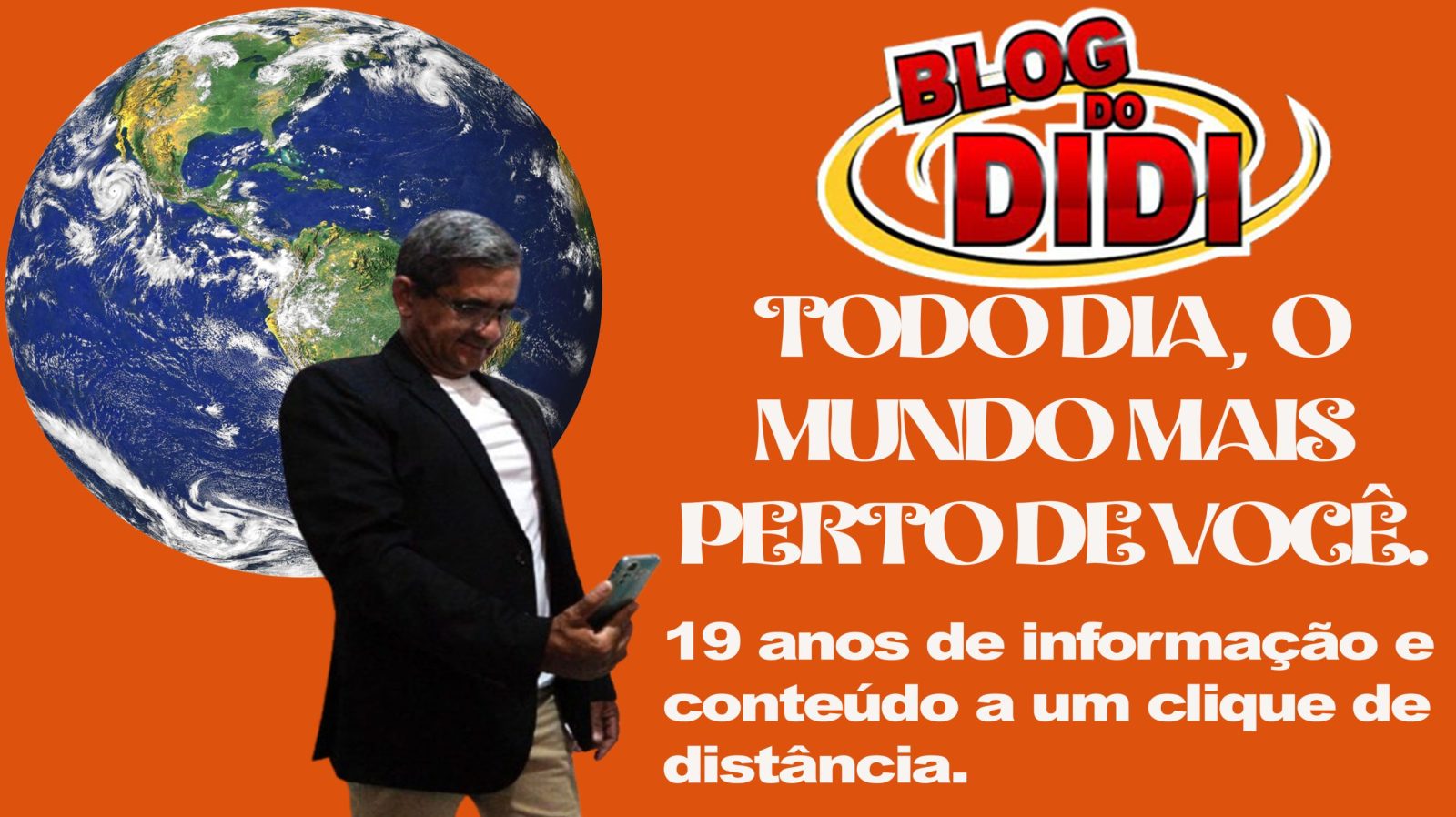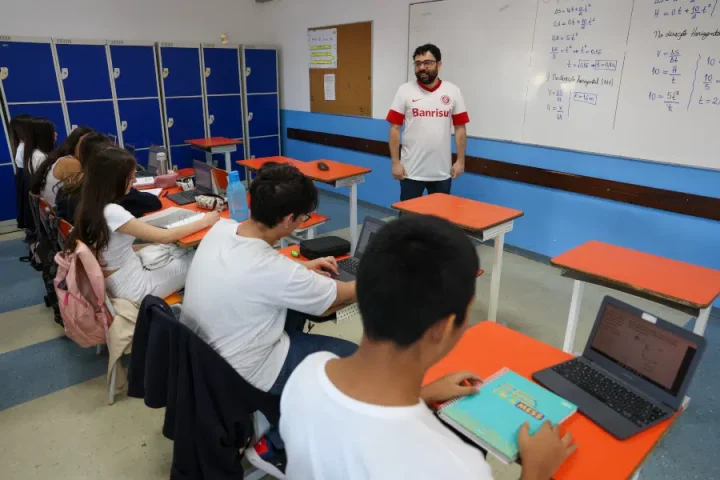Com temperaturas 1,42 oC acima da média pré-industrial verificadas de janeiro a agosto, 2025 deve se tornar o segundo ou terceiro período mais quente dos últimos 176 anos, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM). Apesar do pequeno recuo em relação a 2024, em que o aumento médio — recorde na série histórica —, ficou em 1,55 oC, os dados ainda corroboram a tendência de aquecimento global, que vem se intensificando na última década, e afeta diversos biomas.
Na Caatinga, o processo de desertificação é a principal preocupação ambiental, e a redução da cobertura florestal, degradação do solo e perda de biodiversidade são fenômenos observados, de acordo com os pesquisadores do Observatório da Caatinga e Desertificação. Torna-se também menor, por consequência, a capacidade de fornecimento de serviços ecossistêmicos importantes para a manutenção do clima.
Geógrafo e professor do Departamento de Geociências da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Bartolomeu Israel de Sousa explica que tanto o solo quanto a vegetação são afetados negativamente pelas temperaturas mais altas. “A fertilidade do solo é atingida, já que os organismos microscópicos e macroscópicos nele presentes podem ter suas populações significativamente reduzidas, ou até mesmo extintas, em determinadas áreas”, afirma.
Além disso, as temperaturas elevadas acabam fazendo com que muitas sementes que estão no solo não consigam germinar, já que as taxas de germinação podem ser superadas com essa mudança de clima. “Toda semente tem um limite para germinar, que está diretamente relacionado às temperaturas do solo. No caso de um aumento muito elevado, comprometem-se principalmente aquelas sementes mais sensíveis — como a aroeira [Myracrodruon urundeuva] e a baraúna [Schinopsis brasiliensis] — e pode ocorrer uma diminuição da presença de espécies vegetais. Consequentemente, diminui a recuperação espontânea de áreas em degradação, por exemplo, pelo desmatamento”, detalha.
Na região do Cariri paraibano, geotermômetros, que são medidores de temperatura do solo, estão instalados desde 2020. Os dados são coletados de hora em hora. “A gente percebe que, em áreas com cobertura vegetal preservada, acaba sendo favorecida uma temperatura do solo menos elevada; por conseguinte, a preservação, tanto do solo quanto da vegetação existente, fica mais garantida”, analisa Bartolomeu.
O contrário também é verdadeiro: de acordo com os achados do pesquisador em Geociências, nas áreas monitoradas pelos termômetros e afetadas pelo desmatamento, as temperaturas aferidas são bem mais altas. Com isso, a recuperação espontânea dessas áreas também fica comprometida.
Outro elemento afetado diretamente pelo aumento das temperaturas do ar e do solo é a dinâmica das chuvas. “Mesmo que os padrões de chuva não sejam modificados e a quantidade continue a mesma, como o aumento da temperatura afeta os processos de evapotranspiração, pode acontecer a diminuição da quantidade de água de chuvas que chega ao solo”, comenta o professor.
Isso é detectado a partir do cálculo do índice de aridez, que divide a precipitação pela evapotranspiração. “No caso de muitas áreas da Paraíba, o que a gente percebe, utilizando trabalhos com sensoriamento remoto, é que o índice tem aumentado, o que afeta não a quantidade das chuvas em si, mas o quanto delas chega e fica em retenção no solo. Consequentemente, o padrão de umidade destes solos também diminui”, aponta Bartolomeu. Ele acrescenta, ainda, que, com o aumento do índice de aridez, não só a vegetação nativa e a fauna local, mas as atividades econômicas são também afetadas, em especial a agropecuária.
Mesmo adaptados à seca, animais sofrem
A fauna silvestre da Caatinga desenvolveu, evolutivamente, uma série de estratégias para sobreviver ao clima semiárido, marcado pelo calor extremo, pela seca prolongada e pela escassez de água. “Essas adaptações envolvem alterações que podem ser observadas nas diversas espécies e incluem, além das mudanças adaptativas frente ao calor extremo, a economia de água e energia, e estratégias ligadas ao ciclo da seca e da chuva”, explica o biólogo e gerente-executivo de Fauna Silvestre da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Juan Diego Mendonça.
Muitas espécies evitam o período de maior calor, sendo mais ativas ao amanhecer, ao entardecer ou à noite. É o caso do tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla), do veado-catingueiro (Subulo gouazoubira) e de serpentes, como a jiboia (Boa constrictor). “Outras espécies buscam refúgio em micro–hábitats mais frescos, como tocas e áreas sombreadas, para minimizar a exposição solar, como fazem o tatu-peba [Euphractus sexcinctus], o preá [Galea spixii] e o teiú [Salvator merianae]”, informa Mendonça.
Em um ambiente onde a água é escassa, algumas espécies apresentam baixa taxa metabólica, reduzindo o gasto energético e a perda de água, de acordo com o gerente-executivo da Semas. O calango–verde (Ameivula ocellifera) é uma delas. Outras obtêm a maior parte da água necessária diretamente de seus alimentos: o mocó (Kerodon rupestris), por exemplo, consome vegetação suculenta para se manter hidratado. Há ainda espécies que acumulam gordura, como o jabuti-piranga (Chelonoidis carbonarius), que pode convertê-la em água durante a estiagem.
Em secas extremas, algumas espécies entram em estivação, um tipo de dormência utilizada para poupar energia. Isso ocorre com a perereca-
-de-buraco (Scinax x-signatus). “Além disso, muitas espécies sincronizam sua reprodução com o período chuvoso, quando há mais alimento disponível para os filhotes, a exemplo do sapo-cururu [Rhinella jimi] e da ave jacu-verdadeiro [Penelope superciliaris]”, conta Mendonça.
As diversas adaptações demonstram a resiliência da fauna da Caatinga frente à intermitência climática e temporal. “Contudo, a intensificação das mudanças climáticas e a degradação dos hábitats naturais têm colocado novas pressões sobre essas espécies, ameaçando sua sobrevivência e exigindo ações urgentes de conservação”, afirma o especialista.
Os efeitos do calor associados com a seca prolongada têm impactado a fauna silvestre, sobretudo os indivíduos jovens ou idosos, interferindo no conforto térmico e alterando seus comportamentos naturais. “Diante da escassez de água e alimento, muitos indivíduos estão sendo observados cada vez mais próximos das áreas urbanas e dos condomínios rurais, em busca de recursos que já não encontram com facilidade nos seus ambientes naturais”, ressalta Juan Diego.
Além de representar um sinal claro do desequilíbrio ambiental, esses deslocamentos evidenciam o quanto a fauna tem sido pressionada pelas mudanças climáticas e pela redução de seus hábitats. Os animais também acabam expostos ao risco de acidentes, seja por atropelamento, eletrocussão, ou por ataques de animais domésticos, segundo o gerente–executivo da Semas.

Estratégias para sobreviver: tatu- -peba vive em locais frescos
A Polícia Militar Ambiental (BPAMb) é responsável pelo atendimento de chamados e resgates em áreas urbanas, sobretudo quando os animais se deslocam para locais habitados por humanos. O Corpo de Bombeiros tem atuado em resgates emergenciais, especialmente em situações de risco, como quando os bichos ficam presos em estruturas urbanas (como canos, fiações ou árvores), estão feridos ou representam ameaça à segurança pública.
Populações de répteis e anfíbios estão ameaçadas de redução
Alguns animais respondem à temperatura para regular o desempenho de diversas funções biológicas. Biólogo e pesquisador da Coleção Herpetológica da UFPB, Daniel Mesquita participa de estudos com anfíbios e répteis, especialmente na Caatinga. Ele relaciona os efeitos das mudanças climáticas sobre as populações desses animais com o fato de que eles são ectotérmicos — a temperatura corporal depende da ambiental. “Eles têm um intervalo ideal de temperatura de funcionamento, como qualquer organismo. Diferentemente dos mamíferos, por exemplo, que fazem a regulação de temperatura corpórea com o metabolismo”, detalha.

Jacu reproduz-se no período chuvoso
Um réptil ou um anfíbio não consegue ficar ativo todo o tempo. Daniel explica que, fora do intervalo de temperatura ideal, atividades como a alimentação, a busca por parceria para reproduzir e a reprodução em si deixam de acontecer. “Em alguns momentos, está muito frio e, em outros, muito quente. Quando a média de temperatura se eleva, eles permanecem ativos por menos tempo”, pontua.
Com isso, esses animais tendem a deixar menos descendentes, o que pode provocar, em médio e longo prazo, a redução das populações e o aumento do risco de extinção. “Pode fazer com que a área de distribuição da espécie mude, e ela não consiga mais ocorrer em locais em que ocorre hoje. O contrário também pode acontecer, e algumas espécies podem se dar bem com isso”, explica Mesquita.
Os crocodilianos e as tartarugas não têm determinação genética do sexo. Assim, o que define se o organismo é macho ou fêmea não é um cromossomo, mas a temperatura em um determinado momento na incubação dos ovos. Embora isso varie de espécie para espécie, de maneira geral, temperaturas mais altas produzem fêmeas em tartarugas e machos em jacarés. “O aquecimento pode causar um enviesamento da razão sexual desses animais, embora seja difícil prever se isso acontecerá efetivamente em maior proporção”, pondera o pesquisador da UFPB.